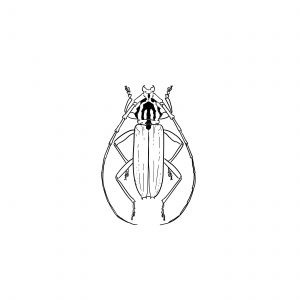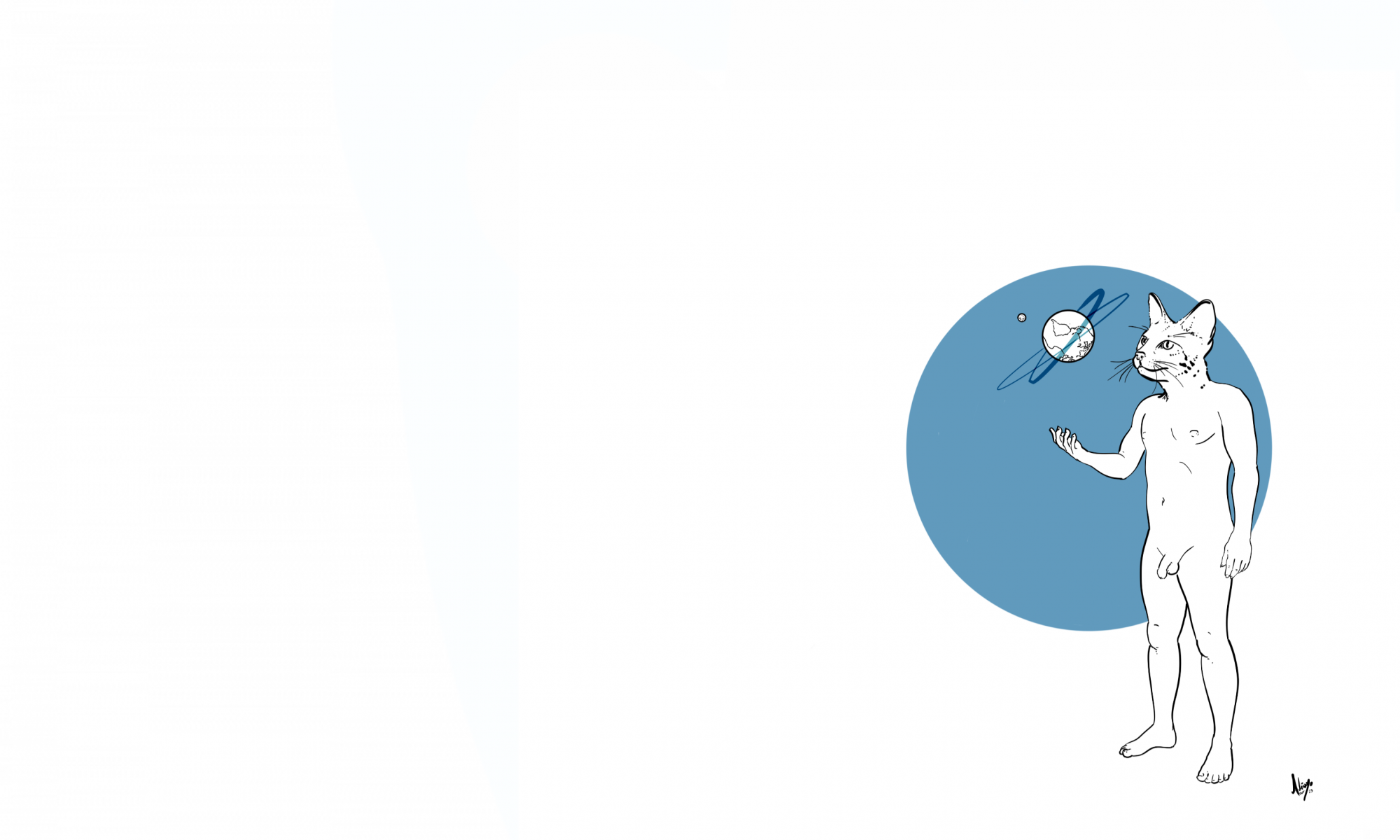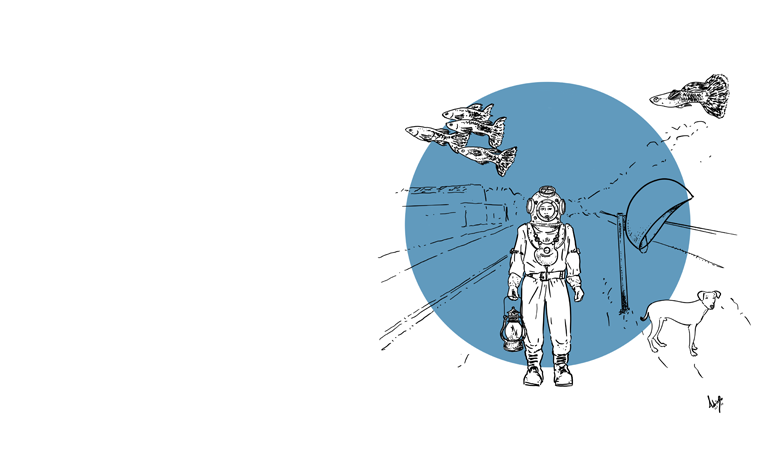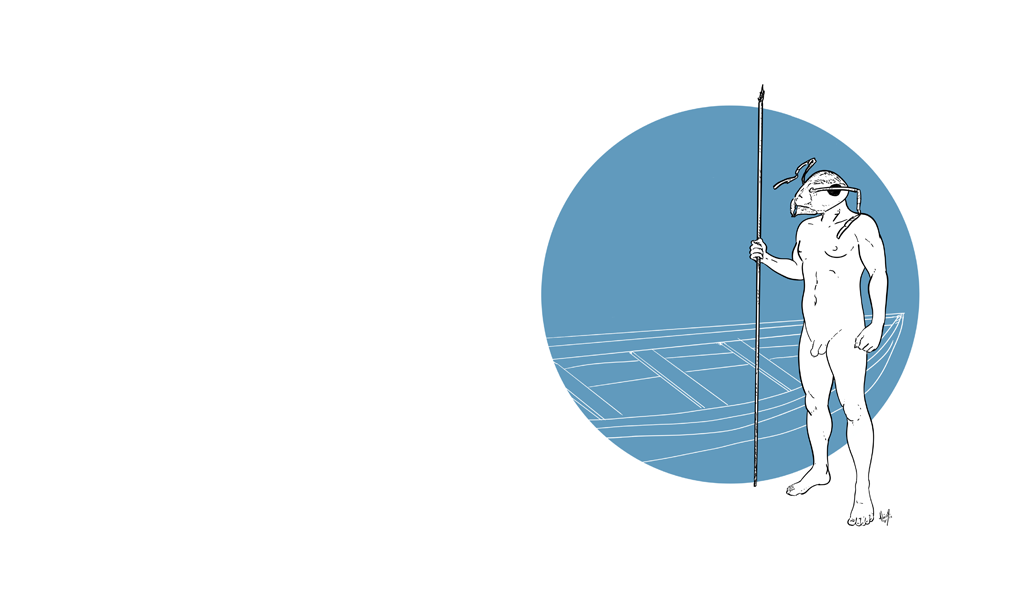WANDERSON LIMA
O tema central de Barbie (2023), de Greta Gerwig, é o despertar e a queda na consciência de si. Gerwig há muito explora temas ligados à autodescoberta, como este, com segurança e primor técnico, como já entrevíamos em Lady Bird, um dos melhores filmes lançados em 2017 e de longe o melhor desta diretora.
Como sabemos, o despertar é motivo mítico – um mitema – das religiões orientais, como o Budismo e o Vedanta. A palavra Buda, aliás, significa “O desperto”. Grosso modo, enquanto os cristãos buscam salvar a alma, budistas e hinduístas buscam o despertar, isto é, atingir um estado de iluminação ou realização espiritual que o alce a um entendimento da verdadeira natureza do real. O Ocidente tem suas versões do despertar também, como se vê, por exemplo, no mito da caverna de Platão e na teologia e na poesia mística de Juan de la Cruz.
A exploração do tema do despertar na cultura fílmica não é nada nova. E sua versão mais bem sucedida no cinema contemporâneo pode ser conferida no filme Matrix (1999), de Lilly e Lana Wachowski. A disseminação deste tema no cinema e na literatura de hoje reflete um medo daquilo que Hans Ulrich Gumbrecht chama de perda do cotidiano, isto é, a ignorância sobre “qual das diversas realidades que se apresentam para nós é a nossa própria”[1]. O ambiente social foi erodido e o “indivíduo eletrônico”, como o nomeia Gumbrecht, aceita “ofertas eletrônicas de experiência como equivalentes da experiência direta pelos sentidos”. Sem um quadro de referências físico e social, vendo o mundo por intermédio de telas, sentimos a realidade se esfumar e almejamos secretamente uma realidade mais palpável para chamar de nossa. Isso explica, ao menos em parte, o interesse contemporâneo por reality shows, esportes de luta, games realistas com muito sangue, cinema em 3D. Portanto, o resgate do mitema do despertar, fora do contexto religioso, é hoje uma busca desesperada de reencontrar o cotidiano que se perdeu.
Voltemos à Barbie, a boneca que acorda de um longo sono dogmático pela consciência da impermanência das coisas do mundo – aquilo que os budistas denominam dukkha. Ao despertar, Barbie se dá conta do hiato entre o eu e os condicionamentos sociais. Percebe que seu mundo de “plástico” não é real, que a inconstância é um fato, que o corpo impõe limites à vida e está sujeito à temporalidade. Não à toa o filme joga intertextualmente com 2001- uma odisseia no espaço (1968) e Matrix. Sem desconsiderar as diferenças estéticas e a escala de reflexão, o que tem em comum Barbie e estes dois filmes? Resumidamente, todos eles lidam com as consequências do despertar da consciência. Acordar da ilusão, cair em si, é sempre um rito doloroso. Desperta, a Barbie Estereotipada necessita descobrir quem é. Para isso, precisará empreender uma jornada na qual rasgará o Véu de Maya e chegará ao mundo real. Ali, ela descobre que o eu, a autoimagem que ela construiu de si, era uma ilusão.
Ora, qual foi o principal constructo social que produziu em Barbie o sonho de um eu estável e lhe roubou a capacidade (sempre relativa, nunca absoluta) de autodeterminação? O Patriarcado. Logo, a luta contra este é a busca da maioridade preconizada pelo iluminismo de Immanuel Kant[2]. Mais ainda: tal busca é relevante coletivamente; libertando-se, ela ajuda outras a se libertarem. Saltamos da revolução individual interior para a revolução política.
De volta ao lar, com a ajuda de sua alma gêmea, Gloria, e de outras bonecas outsiders, Barbie precisa enfrentar a encarnação de Narciso Ferido, Ken. Na leitura do filme, que converge com algumas proposições de Jean Baudrillard em Da Sedução[3], o mundo patriarcal instaurado na Barbielândia é a resposta narcísica à inveja do feminino. Numa inversão de Freud, o mundo patriarcal é erigido como uma inveja da vagina. A retomada desse mundo começa, ainda convergindo com Baudrillard, pela sedução. Mas, ao fim, não há vingança do Matriarcado: a grande descoberta, na conversa capital entre Barbie e Ken no fim do filme, é que ambos foram condicionados e instados a se subjetivarem a partir de posições rivalizantes.
Barbie, a desperta desconstruída, tensiona o binarismo masculino-feminino obrigando-o a expor suas contratações e seu poder de enredar. Matriarcado e Patriarcado têm ambos o seu ponto cego: Barbie também fora cega para a totalidade da dinâmica das relações antes do despertar. O inseguro Ken – nem plenamente desperto nem plenamente desconstruído – apela para o mito do amor romântico e do destino. O que ele teme é menos perder um amor do que ser obrigado a contemplar a vacuidade da sua vida e sentir-se impelido a criar de valores para ter uma vida com sentido. Barbie, mais uma vez, rasga-lhe o Véu de Maya: não há um sentido dado absoluto. Os condicionamentos que dão estabilidade também roubam a nossa liberdade. Ken, enfim, começa a despertar: questiona e tenta transcender as identificações egóicas que produziram o falso real em que ele cria[4]. Após isso, Barbie enfim acessa o mundo real, com uma ajudinha de uma sabia… capitalista. No mundo Barbie, o capitalismo é uma força geradora ambígua, uma coincidentia oppositorum, com sua face cínica (encarnada no CEO da Mattel) e sua face mariana (encarnada em Ruth).
O filme nos faz entender a polêmica afirmação do sociólogo Georg Simmel[5] de que no mundo moderno Deus se chama Dinheiro. Tanto Deus como o Dinheiro são absolutos através do qual podemos medir e aplainar todos os outros valores. No capitalismo, tudo vira mercadoria e tem seu valor medido pelo dinheiro, assim como no mundo pré-capitalista toda ação e produto era valorado ou desvalorado dependendo se agradasse ou desagradasse a Deus. Assim, o filme encena a revolução feminina e acata-a, porque essa revolução libera uma renovação da Barbie que… incrementará o consumo. Barbie é uma mercadoria que critica o mundo das mercadorias para gerar dinheiro. É a indústria do entretenimento tensionando a corda da crítica até onde é possível, sem deixá-la rebentar. Isto é, produzindo um entretenimento decente, sem cometer o “pecado” de cair no mau gosto de não gerar lucro.
Digo isso tudo apenas para justificar que Barbie não é exatamente um filme político que proponha rupturas e aponte para uma estética de resistência. Não me parece sequer que esta fosse a pauta da diretora e ou dos produtores. Mas, para meu espanto, foi assim que muitos quiseram ler o filme. Houve quem quisesse fazer de Margot Robbie a nova Simone de Beauvoir. No entanto, o saldo final, no meu modo de ver, pesa favorável ao filme. A jornada de Barbie ao mundo real, a recusa da utopia de plástico que a entronizava mas também a domesticava e iludia, indica um amadurecimento relativo da consciência social da indústria do entretenimento e é uma resposta relevante a esta nefasta cultura Red Pill. Barbie não é a máquina de doutrinação que red pills e antifeministas pensam, porque é um filme ambíguo em muitas proposições, porque é em grande parte uma isca publicitária, porque não é, nem de longe, uma peça de ódio do Matriarcado contra os homens, porque elabora o discurso que atinge, também, um ponto cego do feminismo, como tentei mostrar; porque, enfim, não renuncia a ser sobretudo diversão. O sono do reacionário produz monstros que só ele vê.
Na cena final, Barbie assume a corporalidade, frágil como a de todo e qualquer ser humano, porém portadora de eros – de vida. É melhor viver na consciência da precariedade de nossa condição que numa ilusão falsa de plenitude. Barbie, como Pinocchio, é a matéria inerte que toma consciência. Sua alegoria é muito auspiciosa nesta era de Inteligência Artificial. Mais que nunca, estamos paralisados de um medo, nem tanto justificado, de que as máquinas “despertem” e ameacem a humanidade. Mais sensato seria pensar como essas novas inteligências, enfim despertas, redefinirão o que é o humano e como deverá viver a humanidade. Ao contrário do Hal de 2001- uma odisseia no espaço, a personagem Barbie projeta alegoricamente uma versão otimista (e, sinto dizer, um tanto ingênua) do futuro da inteligência não humana. Se uma boneca virará gente e virá morar entre nós, se permanecerá cuidando do próprio jardim, sem nos importunar, num mundo real, a coisa me parece bem mais complexa.

[1] Veja-se o ensaio “Perda do cotidiano. O que é real no nosso presente?. In: GUMBRECHT, Hans Ulrich. Graciosidade e estagnação: ensaios escolhidos. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2012.
[2] KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: o que é o Iluminismo? In: A paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: Edições 70, 1990.
[3] BAUDRILLARD, Jean. Da sedução. Campinas: Papirus, 1991.
[4] Desde o começo do texto, refiro-me ao despertar e sua origem nas religiões e filosofias orientais. O leitor interessado encontrará uma exposição clara do tema nos capítulos XVII, XVIII, XIX da obra História das crenças e das ideias religiosas II (RJ, Zahar, 2011), de Mircea Eliade.
[5] SIMMEL, Georg. As grandes cidades e a vida do espírito. Revista Mana, 2005, v. 11, n. 2, p. 577-591.
.
Wanderson Lima é professor e escritor. Doutor em Literatura Comparada pela UFRN, estuda as confluências entre mito, literatura e cinema. Publicou, entre outros, Ensaios sobre literatura e cinema (Horizonte, 2019) e a obra poética Palinódia (Elã, 2021).